Num típico domingo de outono londrino, conversávamos com um amigo quando o assunto da família real surgiu tão naturalmente quanto é falar do tempo nessa cidade. A mais importante e conhecida monarquia mundial veio para a conversa, primeiro, através da discussão do conceito de propriedade sobre os imóveis que a Inglaterra tem – tinha descoberto no dia anterior que, na prática, quem compra um imóvel na Inglaterra não é dono final do terreno ou da “terra” na qual o imóvel está construído – e de como, no fim de contas, todas as terras pertencem à rainha, a seus familiares e, se entendi bem, a algumas poucas famílias aristocráticas. Não sabia que, quando falávamos “estamos na terra da rainha”, estávamos sendo tão literais assim.
Tradição, concentração de poder e aristocracia. Meus pensamentos me levaram para a reflexão sobre como um conceito que para mim soa tão antigo pode se manter até os dias de hoje com aparente, pelo menos aos olhos de uma visitante, pacificidade; sobre como a tradição pode estar está tão conectada com a, literalmente, posse de terra.
Estava eu elaborando um julgamento frio sobre a concentração de terras nas mãos de poucas pessoas, quando lembrei da minha ida à Índia no início do ano e de como, aos olhos julgadores dos estrangeiros, muitas coisas parecem terríveis e antiquadas, mas que, culturalmente, estão estabelecidas e fazem parte das raízes da sociedade, tornando-a única. Tenho aprendido, aos poucos, devo confessar, que o julgamento estrangeiro – seja este de nacionalidade ou de pertencimento a uma bolha diferente – tende a ter o distanciamento de quem nada ou pouco sabe daquela realidade. Ao mesmo tempo, costuma ser o outro, bendito “outro”, quem aponta o que já, pelo hábito, nem notamos.
Lá estava eu absorta nos meus pensamentos quando minha atenção se voltou para a conversa, que tinha fluído das terras da rainha para o casal sensação: Meghan e o príncipe Harry. Não tinha pegado o início da conversa, mas a frase que me fez cair sem paraquedas naquela roda de conversas teve o impacto suficiente para me trazer de volta: “aqui ninguém gosta da Meghan”. É óbvio que a pesquisadora aqui quis saber o motivo para essa afirmação, especialmente porque vivo na bolha em que todos amam a Meghan.
Ao longo da conversa, consegui entender os pontos colocados: o papel que a Kate, Duquesa de Cambridge, cumpre é um papel que, segundo o protocolo, não pode chamar mais a atenção do que o príncipe William, futuro rei da Inglaterra. Desde que acompanhei, junto com todo o planeta, a vida do casal Meghan & Harry no seu tempo como figuras públicas da monarquia inglesa, sempre entendi que a Kate não poderia, mesmo que quisesse e tivesse as qualidades para isso – fato que eu duvido porque me parece ser de outro temperamento –, fazer e agir da mesma forma que a Meghan. Ela é a futura rainha e isso, queira ou não, exige dela outra postura. Em tempos de guerra, por exemplo, a população espera um líder firme, seguro, atuante e amoroso. E, me parece, a Kate transmite isso, dentro de seu jeito inglês de ser. Tenho minhas dúvidas se a Meghan seria capaz de passar essa segurança. Culturalmente falando.
À Meghan coube um lugar mais livre e, por isso, ainda sendo norte-americana, podia se permitir posturas mais modernas, atuais e, de certa forma, descompromissadas. Ela e o Harry foram e são fundamentais para questionar qual é a tradição obsoleta e qual a tradição digna de ser levada adiante. Como todos que têm o dom de questionar valores arraigados, foram expulsos do ambiente, não sem antes deixar o rompimento necessário que areja o que está velho. Por isso entendo que exista quem possa não gostar dela – dentro os quais deve existir aqueles que se identificam com o passado e todo seu simbolismo e tremem com os ares frescos dos novos tempos – e há aqueles que a amam.
O ponto que me chamou mais a atenção, ao final da nossa conversa, foi como todo o peso do desfecho acontecido – a renúncia do príncipe Harry à monarquia e a mudança do casal para a América do Norte – recai sobre a Meghan e sua, suposta e quase certa, inimizade com a Kate. Estamos no final de 2020 e ainda a sociedade atribui à mulher a culpa e a responsabilidade por todo o mal da sociedade. Mesmo em terras londrinas, ou melhor, da rainha, e com toda a modernidade que esta cidade possa representar.
Esqueceu-se todo o comportamento pregresso do Harry ao longo de sua vida – e que o levou a ganhar diversas repreensões públicas da sua avó e pai – em que mostrava, claramente, se encaixar pouco com a rigidez que a vida monárquica inglesa exige. Aliás, ele próprio foi deixado absolutamente de lado. Ele não conta. O que conta é uma mulher – linda por fora e horrorosa por dentro – que o enganou, enfeitiçou e o fez abdicar. Coitados desses homens que nem opinião nem vontade própria conseguem ter, mesmo em tempos modernos. Que horror essas mulheres que com suas artimanhas conseguem o que querem dos indefesos homens.
Sinceramente, quanto poder se outorga a nós, mulheres, e quanto medo isso deve gerar na sociedade. Medo que explica, e muito, o machismo estrutural que rege as nossas sociedades há séculos. Como fica fácil cair na armadilha da “briga entre mulheres” – ciúmes, inveja, raiva – para justificar um fato que se tornará histórico, da mesma forma como foi a decisão do Príncipe Edward de renunciar à coroa em nome do seu amor por Wallis Simpson, e que o tempo tem mostrado que, apesar de toda a culpa recair sobre ela, o Edward não era assim, uma marionete ao vento.

Nany Bilate é pensadora intuitiva e pesquisadora. Seus estudos e textos são focados na transição de valores e crenças da nossa sociedade. E sua interferência nas identidades feminina e masculina contemporâneas.





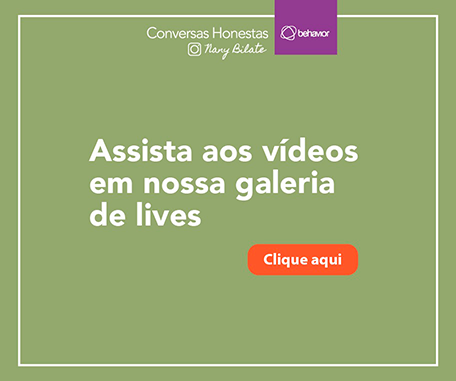
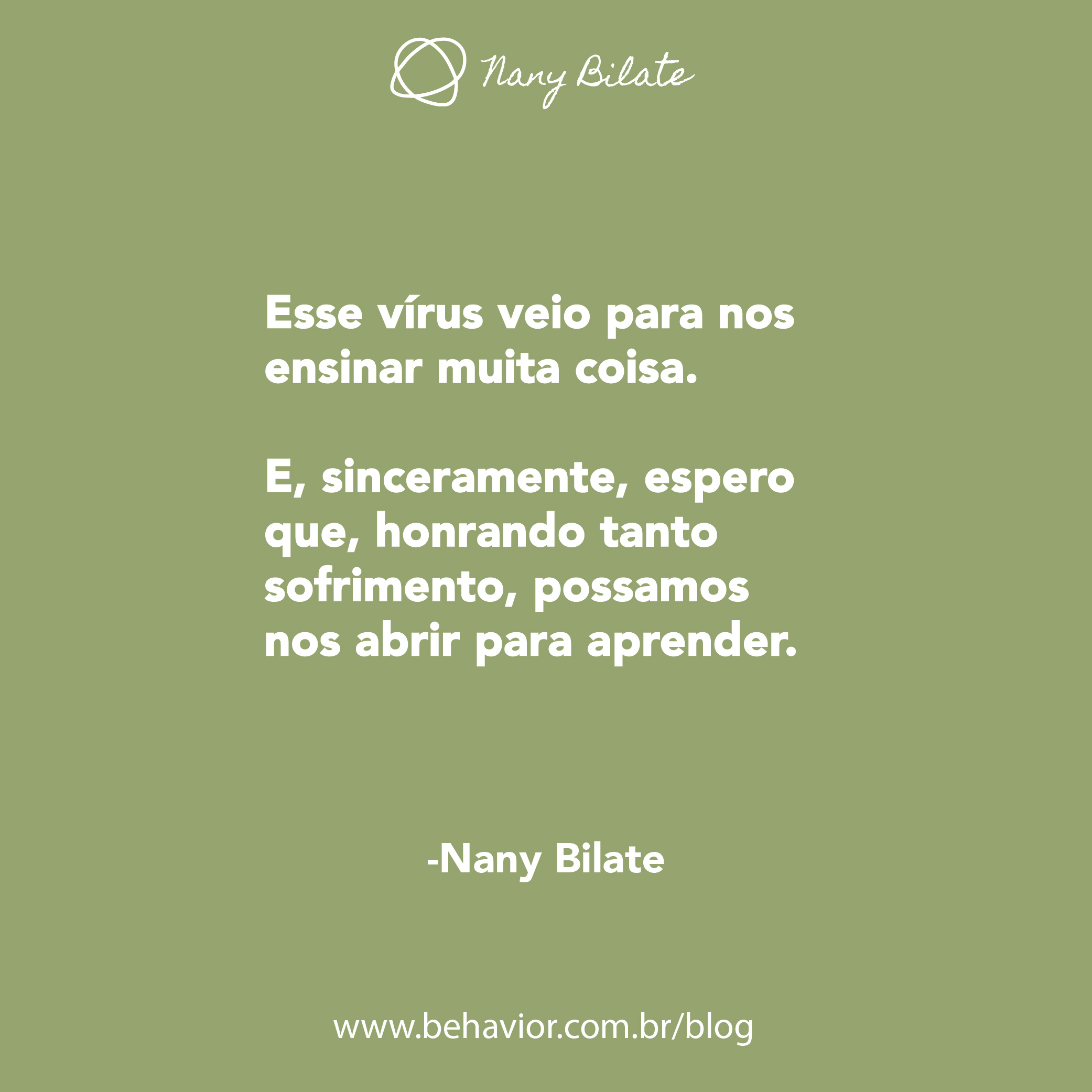


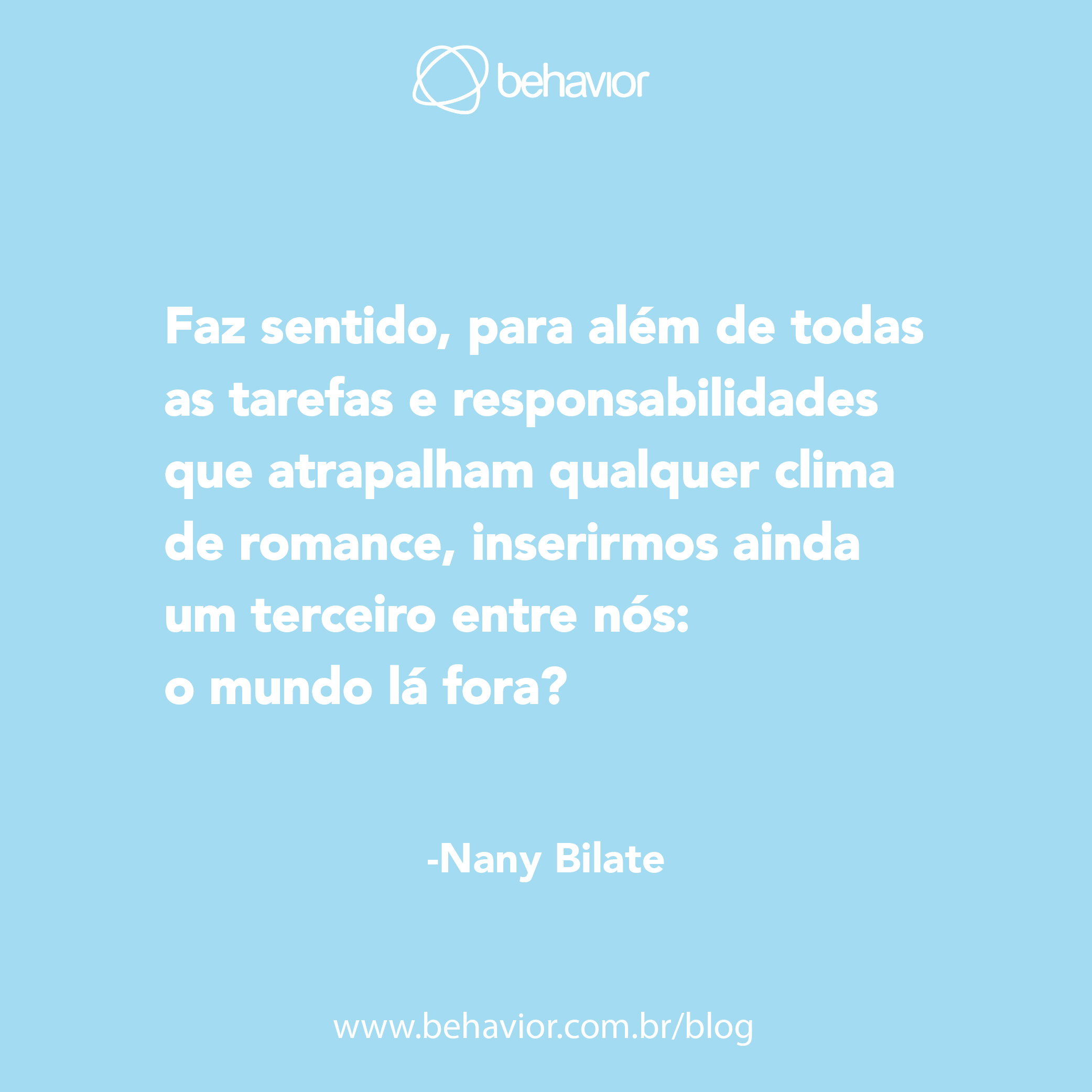


0 Comments
Leave A Comment