Talvez uma das sensações que temos de que o mundo esteja terrivelmente ruim e os valores humanos corrompidos a um nível nunca visto deva-se a que, diferentemente das décadas de 60 e 70, a nossa ingenuidade sobre quem somos como sociedade tenha diminuído.
Quando vejo filmes sobre o auge da bossa nova no Rio de Janeiro, com seu andar cadenciado pelas ondas do mar carioca da zona sul, enquanto centenas de pessoas eram amedrontadas, interrogadas e torturadas em plena ditadura militar, entendo que esse sonho idílico carregava uma inocência somada ao desejo de não querer saber e muito menos, ver a realidade.
Talvez a volta à ditadura, promovida por poucos neste país – é sempre bom dizer, poucos –, tenha a ver com isto: a opção pela ignorância em benefício de ter o seu mundinho cor-de-rosa. O que se faz para esse mundinho se manter assim, irreal, não interessa. Só se quer o seu mundinho cor-de-rosa no qual se finje, feliz, que está tudo bem.
A tecnologia somada ao aumento de educação tirou os véus que nos impediam de olhar para nós, e a cena que estamos enxergando não nos agrada. Melhor assim. Há trabalho a ser feito. Essa missão que nos tocou viver como sociedade atual exige de nós atitudes e ações. Alguns estão passando o tempo pedindo para o passado voltar – como se isso fosse possível. Outros, fingindo que nada está acontecendo para ver se passa. Um grupo, talvez mais numeroso, está jorrando seu desânimo e pessimismo pelas redes sociais, fazendo pouco para mudar a situação. Ao mesmo tempo, um outro grupo está tentando entender e querendo criar uma realidade melhor.
Nem sempre, nesse último grupo, há um acordo sobre como seria esse “melhor” – pelo contrário, neste grupo estão os dois extremos opostos que temos assistido se manifestarem –, mas o que une esse grande grupo é o desejo de atuar interferindo na realidade.
Sem dúvida, faço parte do último grupo e há pouco tempo me dei conta de que, no gradiente de formas de pensar a nova realidade, estou, de certa maneira, unida a pessoas que pensam o oposto de mim. Por estar tão convencida dos valores que nutrem a visão de mundo que me guia, essa visão é para mim tão obviamente melhor que, de quando em quando, ainda me choco quando vejo alguém que compartilha boa parte dos meus valores carregar, também, outros valores que eu sou totalmente contra.
Foi assim que esses dias me deparei com uma situação que me fez pensar como o racismo, por ser estrutural, permeia os pequenos detalhes, o dia a dia, a conversa inocente que transmite valores de “melhor” e “pior”. Foi conversando com um médico quando prestei atenção, rapidamente, na televisão da recepção. As imagens mostravam um dos jornais da Globo. Como âncora estava a Maria Júlia Coutinho, a já famosa Maju, jornalista negra que vem se destacando no cenário nacional.
Sinceramente não lembro o motivo nem como a conversa foi parar nisso, só sei que comecei a contar que tinha visto a Maju pessoalmente alguns meses atrás e ia terminar dizendo que tinha ficado surpresa ao ver que pessoalmente ela é ainda mais bonita que na tela da televisão, quando fui rapidamente cortada pelo médico com a frase: “dizem que ela tem um caso com Bonner”.
Confesso que na hora não me dei conta; levei alguns dias pensando no que essa frase significava até entender que por trás existia toda uma intenção – não foi casual – de desmoralizar e minimizar a competência profissional da Maju. Lembro que fiz um gesto de menosprezo para a frase do médico e completei a minha: “ela é ainda mais bonita pessoalmente do que na televisão”. O médico fechou a cara e a boca. Menos mal.
Por que demorei tanto em me dar conta de que: 1. havia intenção na frase e não era só um comentário solto; 2. havia um explícito desejo de espalhar uma fake news que prejudicasse a jornalista; 3. o médico tão gentil, educado, boa gente e prestativo provavelmente era um racista que buscava lutar contra a equidade racial? Pelo simples motivo de que, quando eu penso em racista, faço a rápida associação com o estereótipo de uma pessoa dura, perversa e má.
Engano meu. O racismo estrutural está em todos nós. Como já me autodefini publicamente, sou uma racista em desconstrução, e isso exige esforço, atenção e disciplina. Por que decidi isso? Porque estou convencida de que minha felicidade e minha autoestima não podem existir se elas implicam a subjugação e o sofrimento de outro. Simples assim.
Só que, claro, há pessoas que pensam diferente de mim e acreditam que a pele e raça branca são sinônimos de superioridade. Racismo, como todo processo discriminatório, é uma questão de poder. É disso que se trata. O desejo de se sentir superior. Há pessoas que precisam disso para viver. Para se sentirem alguém na sociedade. E, como disse antes, mesmo pessoas generosas, afáveis e legais.
Lamento não ter reagido rapidamente à fala do médico, com uma frase tranquila que, espero eu, pudesse fazê-lo pensar. Não sou tão rápida assim nas respostas; de todo modo, a experiência me abriu os olhos para o racismo ao nosso lado, sutil, vestido de inocência, expresso em simples comentário que podia ser dito solto no ar, como por exemplo: “nossa, você se tatuou! Que pena, você era tão branquinho…” – frase que já ouvi em duas ocasiões.
Se quisermos que a nossa sociedade evolua para a equidade, precisamos de maior atenção aos detalhes de atos feitos e frases ditas por nós, pelos nossos e pelas pessoas no nosso microcosmo. Costumamos observar com facilidade questões conectadas com o racismo em grandes feitos, em frases toscas, só que o racismo estrutural está no pequeno, nas piadas, nas fofocas, na forma de tratar e no olhar das pessoas de quem gostamos. E esse é nosso grande desafio.

Nany Bilate é pensadora intuitiva e pesquisadora. Seus estudos e textos são focados na transição de valores e crenças da nossa sociedade. E sua interferência nas identidades feminina e masculina contemporâneas.
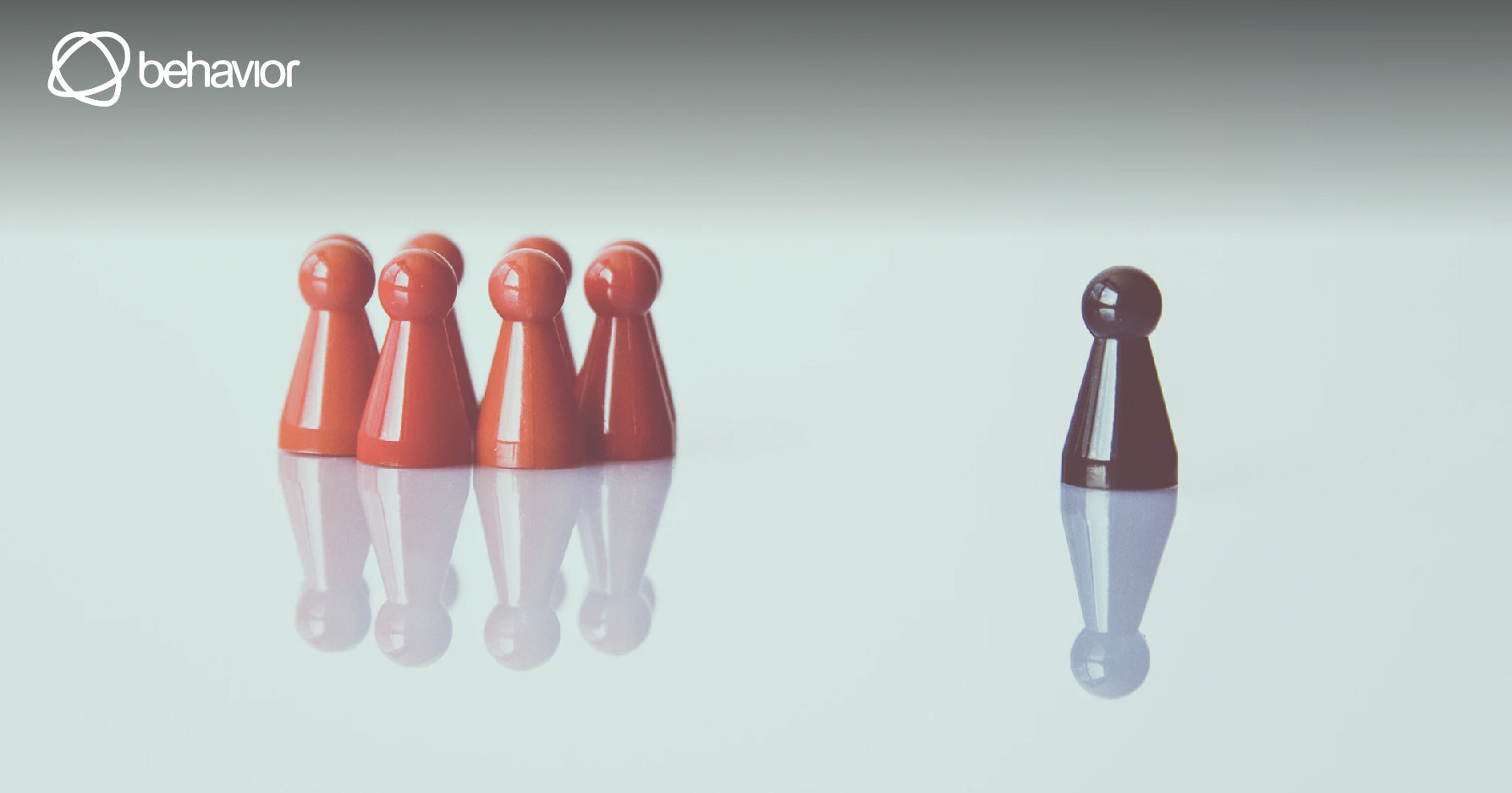




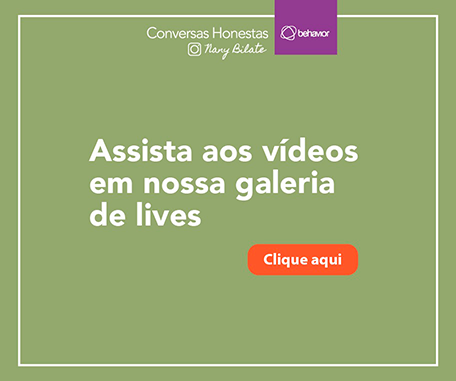
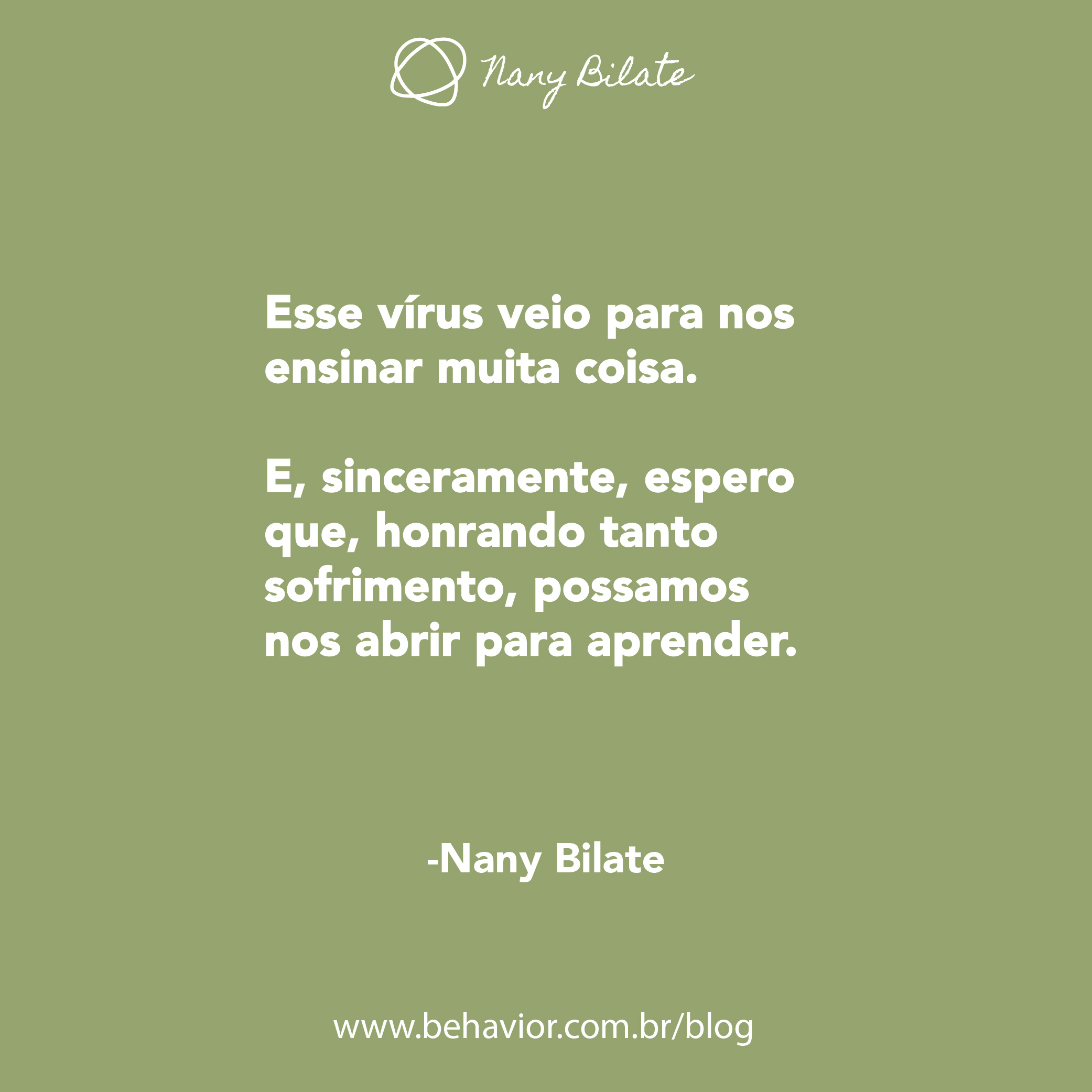


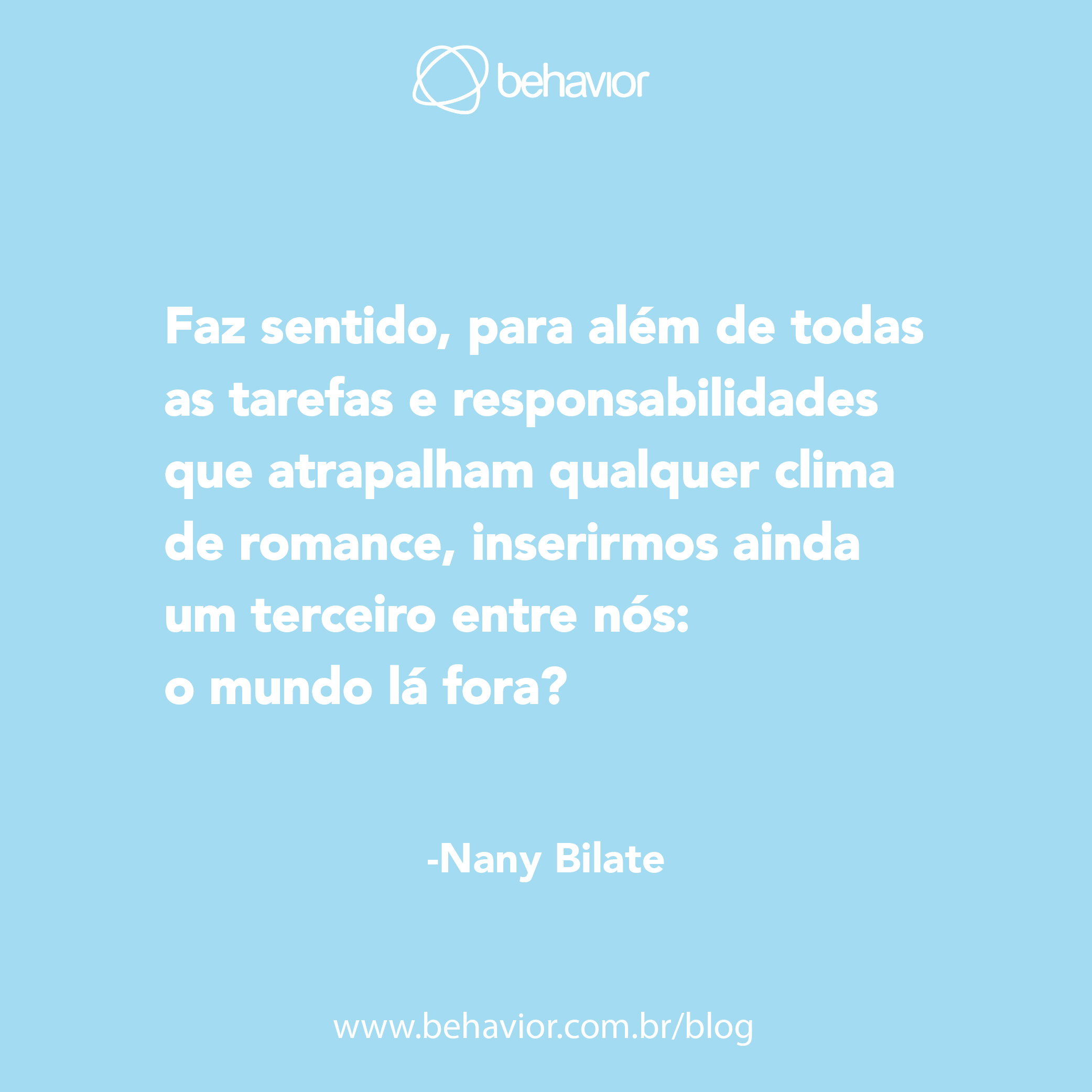


0 Comments
Leave A Comment